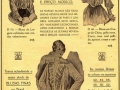Shopping Centers no Brasil – Século 20
1. PORQUE SHOPPING CENTERS?
Muitas pessoas ainda continuam achando que um Shopping Center moderno é um conceito novo e revolucionário dentro do planejamento urbano e do desenvolvimento social. Ao contrário, trata-se, porém, de uma das mais antigas instituições conhecidas pela humanidade.
A partir dos primeiros relatos da história, quando o homem desceu das árvores e começou sua vivência em pequenos grupos, sempre havia, pelo menos, uma área especial onde efetuava suas compras, realizava suas trocas e se socializava.
Quando vivia afastado, essa área especial era um posto de intercâmbio, em uma encruzilhada ou em algum outro ponto de fácil acesso no vai-e-vem entre grandes distâncias. Na medida em que os homens começaram a agrupar-se em aldeias e povoados, os postos de intercâmbio transformaram-se em mercados públicos ou em bazares e, finalmente, quando as povoações cresciam e davam lugar às cidades, surgia o Distrito Comercial Central ou “o Centro” de cada cidade.
Além de seus aspectos sociais, não é mero acidente que, historicamente, a maioria do comércio sempre se concentrará numa área de fácil acesso. A razão é simples e lógica: a natureza humana.
A venda de seja-lá-o-que-for, requer não somente um vendedor, mas também a parte mais decisiva e importante da transação, o comprador. E como compradores – todo mundo – por razões de nosso próprio ser, procuramos viver de um modo mais cômodo e menos complicado possível.
A conveniência do homem poder comprar ou adquirir a maior parte dos artigos de que necessitava em um único lugar, numa localização central, era um dos primeiros e mais diretos meios pelo qual procurou descomplicar sua vida, que estava se tornando cada vez mais complexa. A validade dessa lógica perdura até hoje e é a chave fundamental para o desenvolvimento da indústria de Shopping Centers.
Nos Estados Unidos e no Canadá, a concentração do comércio e de serviços no Centro ou no Distrito Comercial Central da cidade, satisfazia as necessidades até o fim da década de 1940 / início da década de 1950; na Europa, até a metade da década de 1960 e no Brasil e em outros países latino-americanos, até o fim dos anos 60, quando a ampla difusão de posse e de uso do automóvel particular se infiltrou como parte rotineira na vida cotidiana.
O constante aumento dos números absolutos de automóveis e, consequentemente, as ruas sempre mais congestionadas, assim como os poucos locais para estacionamento, fizeram com que todos os centros das cidades se tornassem caóticos e, efetivamente, indesejáveis.
A razão para a criação e manutenção dessas áreas – a conveniência da concentração de lojas e serviços em um só lugar, e com facilidade de acesso – deixou de existir.
Ao contrário, na maioria das grandes cidades e mesmo em muitas das cidades de menor porte, “o Centro” tornou-se um lugar decididamente inconveniente. Ir ao centro, ou especialmente dirigir um carro até lá, é uma experiência desgastante, irritante e um desperdício de tempo que, hoje em dia, todo mundo faz o possível para evitar.
Uma das soluções para este dilema do congestionamento urbano foi, naturalmente, construir novas áreas que possuíssem todas as conveniências dos antigos e históricos “Centros”, mas que incluíssem também provisões para o automóvel: o Shopping Center.
2. O QUE É UM SHOPPING CENTER?
Por tudo que possa parecer, um Shopping Center é simplesmente um novo “Centro”, porém planejado, projetado, e, o que é mais importante ainda, administrado de tal forma que atenda não somente os problemas atuais, mas também preveja o futuro, a fim de garantir sua contínua viabilidade como ponto comercial e, acima de tudo, a contínua conveniência dos seus clientes.
A definição formal de um moderno Shopping Center é a seguinte:
- de uma concentração planejada de lojas e serviços;
- de uma localização central dentro de uma determinada Área de Influência;
- de fácil acesso, por carro ou transporte público, de todas as partes de sua Área de Influência e mesmo de fora da própria Área, na medida possível;
- que forneça abundante, conveniente e planejado estacionamento;
- administrado e promovido como uma só unidade.
Um ponto importante que, porém, deve ser notado quando se considerar investir num Shopping Center é que, independente do seu tamanho, um Shopping nada mais é do que uma plataforma, um edifício, um veículo para abrigar e facilitar operações varejistas – a venda de mercadorias e serviços – e que o seu sucesso financeiro dependerá totalmente do volume de vendas realizado por seus locatários-comerciantes.
Shopping Center é negócio de varejo. Financeiramente é um negócio de caixa. O desempenho do negócio é medido pelo fluxo de caixa, e para se ter um fluxo de caixa positivo, é preciso ter um alto índice de vendas.
A fim de se conseguir manter esse alto índice de vendas, após inaugurado, o desenvolvimento de qualquer shopping center novo deverá seguir um processo que inclua estudos minuciosos a respeito de sua localização, acessos, concepção e deverá quantificar, com precisão, o mercado disponível na sua futura Área de Influência.
Sem esses estudos iniciais, que definirão se existe mercado suficiente para um novo shopping center, ou não, seus empreendedores e/ou investidores poderão estar montando um futuro fracasso, em vez do empreendimento bem sucedido que todo mundo deseja.
3. O COMEÇO NO PAÍS – SHOPPING CENTER IGUATEMI
A era de Shopping Centers no Brasil formalmente começou em Novembro de 1966, com a inauguração do Shopping Center Iguatemi, em São Paulo.
Desenvolvido pelo pioneiro empreendedor, Alfredo Mathias, com fundos arcados por milhares de investidores, através de um sistema de vendas de quotas “porta a porta”, o Iguatemi, no início, com 25.425m2 de Área Bruta Locável – hoje com 47.322 m2 – não tinha nada do estrondoso sucesso que hoje em dia o tornou tão famoso.
Ao contrário, os anos iniciais do Iguatemi foram marcados pela quase total rejeição de seu conceito inovador e facilidades (na época) modernos.
No fim da década de 60, comercialmente, a Rua Augusta reinava quase que absoluta e a nova presença do Iguatemi foi caracterizada pela ausência de consumidores / compradores, pela regularidade com que lojas fechavam e pela ausência de retorno financeiro não só para os lojistas, como também para a legião de investidores que havia comprado – por alguma razão – os títulos dos vendedores ambulantes do visionário Alfredo Mathias.
Ficou patente para muitos lojistas do Iguatemi, na época, que o Brasil simplesmente ainda não estava preparado para Shopping Centers e que, mesmo contando com uma pequena loja de departamentos (Sears), cinemas, amplos estacionamentos e uma considerável gama de lojas e serviços, seus planos e esperanças para ganhos comerciais e financeiros rápidos, com o Shopping, obviamente foram precipitados.
Os ganhos e o retorno financeiro eventualmente viriam para os que tinham meios para aguentar os anos de desespero, mas isso somente quando o conceito de Shopping Center começou a ser finalmente aceito no país, e após consideráveis investimentos adicionais, por parte dos novos administradores, tanto em melhorias físicas, como em melhorias administrativas e promocionais também, depois que o velho Alfredo Mathias foi forçado a vender o empreendimento, em 1978.
Vale aqui ressaltar uma menção honrosa ao Super Centro Boqueirão, primeiro centro comercial da América Latina, inaugurado em 15 de outubro de 1965 na cidade de Santos – SP, com uma ABL de 5.500 m2 totalizando mais de 140 lojas. Considerada sua estruturação de lojas vendidas à época, enquadra-se mais como empreendimento imobiliário do que como shopping center.
4. A DÉCADA DE 70 – IMPLANTAÇÃO DE UMA NOVA INDÚSTRIA
Não obstante a existência do Iguatemi, a indústria nacional de shopping centers efetivamente começou – mas lentamente – no decorrer da década de 70.
Durante esses 10 anos, foram inaugurados 8 novos shoppings, com um total de 254 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL). Mas, mesmo assim com aquele conceito novo e moderno de organização varejista, com exceção da razoavelmente bem sucedida inauguração do Shopping Center Matarazzo (que é, na realidade, apenas um tipo de “Strip Center” coberto, ancorado por um supermercado, com uma faixa de lojas “satélites” em frente aos caixas – o precursor do formato das lojas Carrefour de hoje), do Center Um em Fortaleza (outro exemplo de “Strip Center coberto”, inaugurado em 1974) e do Shopping Center Ibirapuera, que gozaram de sucesso desde seus primeiros dias; os outros 5 Shoppings inaugurados neste período, não encontraram aquele espetáculo de vendas antecipadas.
O público brasileiro custou a assumir e adotar o Shopping Center como seu.
Em ordem cronológica, com exceção do Center Um, que não é filiado da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), os shopping centers inaugurados na década de 70 foram os seguintes:
| Shopping Center | Mês de Inauguração | Observações (Baseadas na Década de 70) |
| Conjunto Nacional Brasília(Brasília, DF) | 11/71 | Mesmo contando com sua excelente localização, os anos da primeira etapa do Conjunto Nacional não foram coroados de pleno sucesso. Porém com as sucessivas ampliações (em 1975 e 1978), o projeto tornou-se muito bem sucedido. |
| Com-Tour Londrina(Londrina, PR) | 10/73 | Destacava-se apenas por ser chamado “Shopping Center”. Na realidade era uma galeria horizontal, com estacionamento. |
| Shopping da Gávea(Rio de Janeiro,RJ) | 05/75 | Idealizado e construído pela Vector Engenharia, foi o primeiro shopping do Rio de Janeiro. |
| S.C. Matarazzo(São Paulo, SP) | 10/75 | Como indicado anteriormente, o Shopping Center Matarazzo não passava de um “Strip Center” coberto, que é um super ou hipermercado, com uma faixa de lojas “satélites”, instaladas de frente para seus caixas. Não obstante, teve aceitação razoável, desde seu início. |
| Continental S.C.(Osasco, SP) | 10/75 | O Continental é um shopping center que foi desenvolvido com o objetivo de valorizar os terrenos à sua volta. É um projeto muito bem construído, de 3 pisos. Na sua inauguração, contava com uma loja âncora da rede japonesa Yohan (que posteriormente fechou) e algumas das melhores lojas satélites da época. Não obstante, sua localização difícil, dentro de uma Área de Influência de classe operária e as dificuldades de acesso, nada ajudou para salvar o projeto. |
| S.C. Iguatemi Bahia(Salvador, BA) | 12/75 | O Shopping Center Iguatemi Bahia é um dos mais bem sucedidos shoppings do país. Mas, seus primeiros anos de operação foram também difíceis. Os baianos achavam que era muito distante do centro e, devido a sua complexidade (três andares, com transporte vertical) e a falta de muitas opções de compra desejáveis, sofreu muito. |
| S.C. Ibirapuera(São Paulo, SP) | 8/76 | Desenvolvido com muita promoção, o Ibirapuera foi o primeiro shopping do país a gozar de sucesso imediato. Continua sendo um dos shoppings de destaque em São Paulo. |
| BH Shopping(Belo Horizonte,MG) | 10/79 | 3 anos após a inauguração do Ibirapuera e 14 anos após a abertura do Iguatemi São Paulo, o país ganhou seu oitavo shopping center. O BH Shopping foi profissionalmente desenvolvido, contava com todos os requisitos básicos (fácil acesso, amplos estacionamentos, lojas âncora, Malls bem planejados) e apresentou a primeira praça de Fast Food planejada do país. Também como os baianos, com seus pensamentos em relação ao Iguatemi Bahia, foi considerado “longe demais pelos mineiros e, como conseqüência sofreu durante seus primeiros anos. Somente após o acréscimo do Hipermercado Carrefour foi que o BH Shopping iniciou sua bem sucedida trajetória. |
Mesmo que nesse período, o progresso tenha sido lento e, às vezes não muito animador, as bases para a verdadeira indústria de shopping centers no país estavam sendo firmemente formadas e os hábitos de consumo de milhares de brasileiros sendo radicalmente mudados.
Assim, no decorrer dos últimos 3 anos dessa década, iniciava-se o planejamento e desenvolvimento de projetos que formariam o núcleo de uma verdadeira explosão de shopping centers durante a década de 80.
Como resultado, apenas nos 3 anos de 1980 a 1982, foram inaugurados mais shoppings, do que os inaugurados durante a década inteira de 1970-1979 (14 com um total de 522 mil m2 de ABL, contra 7 com um total de 254 mil m2 de ABL, durante a década de 70 e 1 com 25.425m2 – Iguatemi São Paulo, durante a década de 60).
Enquanto as mudanças nos hábitos do consumidor e nas práticas de varejo eram profundas, a mais significativa ocorreu no relacionamento entre os donos (empreendedores e investidores) e os inquilinos dos shoppings (lojistas).
A introdução, nos contratos de locação (e aceitação por parte dos lojistas) de cláusulas de aluguel percentual (quando o lojista pagaria, acima de um mínimo estipulado, uma porcentagem pré-estabelecida sobre suas vendas, como aluguel) não foi apenas uma novidade, mas também uma maneira encontrada para que os empreendedores e eventuais investidores conseguissem se proteger das perdas ocasionadas pela inflação, como também participar do crescente sucesso de cada shopping, garantindo e aumentando, assim, seu eventual retorno financeiro.
O efeito dessa inovação foi o de tornar os shoppings nacionais mais atrativos ainda, tanto para empreendedores, quanto para os investidores, incluindo os institucionais, os quais iniciaram sua investida na indústria durante a década seguinte, pois na década de 70, fontes de financiamento para shopping centers eram difíceis de se encontrar.
A maioria dos shopping centers, nesta década, foi financiada com fundos da Caixa Econômica, normalmente com prazos de 10 anos, com carência de 2 anos durante a construção. Não obstante, por ser um tipo de empreendimento novo, conseguir fundos da Caixa exigia que se enfrentasse muita burocracia.
5. A DÉCADA DE 80 – MATURAÇÃO DA INDÚSTRIA
Mesmo com todos os contratempos, ocasionados pelos sucessivos planos econômicos malogrados, a indústria de shopping centers amadureceu durante a década de 80 e tornou-se parte do cotidiano dos brasileiros.
No início da década, os empreendedores nacionais ainda tinham muito que aprender sobre as técnicas de desenvolvimento e de operação de shopping centers e, portanto, continuaram importando consultores com tecnologia e experiência americana e européia até meados da década, quando o Brasil tornou-se auto-suficiente em conhecimentos e tecnologia de shopping centers. A tecnologia Brasileira de shopping centers é hoje um produto de exportação para outros países.
Começando com a inauguração do Rio Sul Shopping Center, no Rio, em Abril de 1980 (um projeto tipo “multi-uso” por ser um empreendimento que concentra, em um só lugar, um shopping center junto à uma torre de escritórios, muito bem sucedido, por sinal), como indicado anteriormente, os projetos planejados no fim da década de 70 foram rapidamente inaugurados no período de 1980 a 1983.
Dos projetos inaugurados nesta época, alguns após seu período natural de maturação tornaram-se os shopping centers de maior expressão do país. Os mais destacados são:
| Shopping Center | Mês de Inauguração | Observações (Baseadas na Década de 80) |
| S.C. Iguatemi Campinas(Campinas, SP) | 5/80 | No início, ele era maior do que o seu mercado comportava e, portanto, sofreu durante seus primeiros anos. Com o crescimento do mercado, a adequação de melhoria do seu Tenant Mix e o aperfeiçoamento de sua Administração, tornou-se o shopping center com maior êxito no interior de São Paulo. |
| Shopping Center Recife(Recife, PE) | 10/80 | Os pernambucanos custaram a aderir ao hábito de shopping center. Se este foi o resultado da natural reticência desse povo em provar coisas novas, ou se foi em decorrência da localização do shopping – na época pouco privilegiada (ao lado de uma comunidade, e numa área apenas no início do seu espetacular desenvolvimento – o bairro de Boa Viagem) – o Shopping Center Recife também levou tempo para se firmar. Não obstante, após os primeiros difíceis anos, sofreu diversas expansões e reinou absoluto, no mercado, por 13 anos, até a inauguração do 2o. shopping da cidade, o Shopping Guararapes, em Novembro de 1993, no município de Jaboatão dos Guararapes, contíguo à Recife. |
| Ribeirão Shopping(Ribeirão Preto,SP) | 05/81 | Com a inauguração do RibeirãoShopping, dia 5 de maio de 1981, surgiu em Ribeirão Preto um novo vetor de desenvolvimento urbano. A fazenda de cana-de-açúcar que na época parecia muito distante da cidade, quase no distrito de Bonfim Paulista, deu lugar a um moderno shopping com 100 lojas, praça de alimentação cinemas e ambiente climatizado. |
| Shopping Center Eldorado(São Paulo, SP) | 9/81 | Inaugurado com muita fanfarra, o Shopping Eldorado gozou de um sucesso inédito durante os primeiros 2 ou 3 anos. Não obstante, a modernização e aprimoramento do seu vizinho, o Shopping Iguatemi (apenas a 1 km de distância), resultou num declínio vertiginoso de sua popularidade. Apenas recentemente, como resultado de um programa de reforma e introdução de novas atrações, adequação do seu Tenant Mix e profissionalização da sua Administração, é que o empreendimento vem adquirindo um novo direcionamento. |
| Barrashopping(Rio de Janeiro, RJ) | 10/81 | Na época, o Barrashopping também era considerado “longe”, mas estava localizado na área de maior desenvolvimento da cidade, com fácil acesso de quase todas as partes do Rio de Janeiro. Na década de 90, com sua expansão conta com mais de 74.600 m2 de Área Bruta Locável e 550 lojas. Quando inaugurado estreou uma grande área de lazer, que foi a primeira no país e que, hoje em dia, tornou-se praxe na maioria dos shoppings nacionais. O conceito brasileiro de “áreas de lazer” está sendo aproveitado em diversos shoppings norte-americanos de menor porte, além dos grandes shoppings como o de West Edmonton, no Canadá e o Mall of América, em Minneapolis, Minn, que foi concebido em torno de um grande parque de diversões, o Camp Snoopy. |
| S.C. Iguatemi Fortaleza(Fortaleza, CE) | 4/82 | Apesar da existência do Center Um, o Shopping Center Iguatemi Fortaleza foi o primeiro shopping center moderno, da cidade, e desfrutou de razoável sucesso desde o início. Foi ampliado e solidificou sua posição de liderança, no Estado. |
| Morumbi Shopping(São Paulo, SP) | 5/82 | Devido a sua localização e ao profissionalismo com o qual foi desenvolvido, o MorumbiShopping sempre gozou de uma posição de destaque no mercado paulista. Após sucessivas expansões é considerado, hoje em dia, um dos melhores shoppings do país. |
| S.C. Iguatemi Porto Alegre(Porto Alegre, RS) | 4/83 | Como o primeiro shopping center do Rio Grande do Sul, e também devido ao profissionalismo com o qual foi desenvolvido, o Iguatemi Porto Alegre gozou de sucesso instantâneo, o qual continua até hoje, apesar da concorrência de outros shoppings inaugurados na cidade, durante os últimos anos. |
Outros shoppings de destaque e de sucesso foram inaugurados durante a década, como, por exemplo, o Müeller Shopping Center (9/83),em Curitiba (um Shopping no centro da cidade que aproveitou uma construção antiga, preservando suas características arquitetônicas), o Parkshopping (11/93), em Brasília (que levou mais de 3 anos para se firmar no mercado, mas hoje é um sucesso total), o Center Norte (4/84), em São Paulo(talvez o maior sucesso em shopping center do país), o Norteshopping (7/86) no Rio de Janeiro, o Shopping Barra (11/87), em Salvador, Bahia, e o Shopping Iguatemi Maceió (4/89), entre outros.
Nesta década, também, apareceram os primeiros “Shoppings Especializados”: o Rio Design Center (12/83) e o Casa Shopping (9/84), no Rio, com exceção do Center Norte, esses tipos de empreendimentos tiveram lenta aceitação por parte do público e, como consequência, retornos financeiros pouco alentadores.
No final da década, o país contava com 56 shopping centers oficialmente reconhecidos pela ABRASCE, sem contar com diversos outros projetos de menor escala, não filiados. Em termos de Área Bruta Locável, foram construídos 1.294.643m2 entre 1980 e 1989.
6. A DÉCADA DE 90 – REFORMAS E NOVAS FORMAS DE VAREJO
Na primeira metade da década, o varejo no Brasil atravessou o seu período mais turbulento dos tempos recentes; grandes organizações de varejo enfrentaram enormes dificuldades financeiras, empreendimentos planejados durante a década de 80, abriram suas portas para um público que experimentou perda de poder aquisitivo de mais de 30% em valores reais, em curto período de tempo, e o capital de longo prazo praticamente tornou-se inacessível à grande maioria dos empreendedores.
Como conseqüência desse período de turbulência, que acompanhou a própria turbulência econômica do país, a indústria de shopping centers foi obrigada a repensar seus dogmas e parâmetros e adaptar-se a um país sensivelmente mais pobre, onde a eficiência assumiu papel preponderante nas decisões empresariais, opondo-se ao período anterior em que sofisticação e modelos importados eram a norma.
O varejo brasileiro, nesse período, sofreu profundas mudanças em sua própria estrutura, devido a dois fatores principais: 1) a quebra da confiança entre fornecedores e revendedores, ocorrida principalmente em função do cancelamento das encomendas de Natal em 1990 e 1991, deixando todos os fabricantes, do pequeno ao mega empresário, em sérias dificuldades; 2) o altíssimo custo real do capital, que obrigou todos os participantes na cadeia de distribuição a trabalharem com estoques perto de inexistentes.
Como conseqüência, nota-se no varejo brasileiro na área de confecções e moda em geral, a preocupação generalizada dos fabricantes em assumirem controle de parcela significativa de seus canais de distribuição de modo a não mais dependerem inteiramente de terceiros para a colocação de seus produtos.
Essa preocupação manifesta-se no surgimento generalizado de grandes redes de varejo que são, na realidade, rede de distribuição direta de fabricantes. As lojas multimarca perdem espaço e aquelas exclusivas de “grifes”, passam a ter a importância das antigas âncoras em qualquer novo empreendimento.
Durante esse período, consolidam-se aquelas redes de varejo, i.e., fabricantes, que melhor souberam aproveitar-se da combinação “nome – preço – produto”, com rápida expansão e presença nos pontos de vendas onde estava o público. Exemplo perfeito dessa época foram as redes Pakalolo, M Officer, Forum e outras, as quais, aliadas à rápida expansão do sistema de franquia, souberam preencher o vácuo deixado no mercado pelas antigas lojas multimarca, tais como Casas José Silva, Garbo, Marie Claire e outras.
A preocupação do fabricante em chegar até o varejo atingiu toda a escala de fabricantes; naqueles de maior porte, essa preocupação manifestou-se no fenômeno da criação de “lojas de fábrica”, cujo exemplo mais marcante, tanto pela sua novidade quanto pela sua escala, foi da “Vila Romana”.
Em 1991, a Vila Romana, em face de enorme estoque sem giro, resultado de previsões otimistas e pedidos cancelados, viu-se obrigada a subverter seu sistema de distribuição e “queimar” várias marcas através da divulgação maciça de sua loja de fábrica, junto ao público consumidor. Apesar desta loja existir há vários anos, até então sua função exclusiva era a desova de pequenos estoques obsoletos; em 1991, a função da loja de fábrica passou a de tornar-se um dos principais canais de distribuição da empresa, assumindo importância capital para a viabilização da continuidade econômico financeira da empresa.
Uma vez dado o exemplo da Vila Romana, muitos outros fabricantes seguiram celeremente seu exemplo e iniciaram suas próprias operações de “lojas de fábrica”, entre os quais destacam-se a Levi’s, Camelo, Alpargatas, Cori, etc.
Sob o pretexto de comercializar pontas de estoque, fabricantes grandes, médios e pequenos passaram a controlar fatias significativas de seus canais de distribuição ao consumidor, ao ponto de, atualmente, dedicarem parte de sua capacidade produtiva à manufatura de “pontas de estoque” para abastecer suas lojas de fábrica.
Outro fenômeno marcante deste período de crise foi a consolidação das chamadas “pronta entrega”, atividade marcadamente brasileira oriunda da necessidade de manutenção de baixos estoques pelos lojistas.
As confecções médias e pequenas sempre mantiveram estoques à disposição dos lojistas, de maneira que o abastecimento das pequenas lojas pudesse ser feito diariamente, se necessário. Com a alta contínua do custo de capital, esta atividade expandiu-se a ponto de sustentar empreendimentos muito grandes exclusivamente voltados a este mercado, tais como o “Mart Center”, com mais de 700 lojas de pronta entrega, Brás Center, Pólo Atacadista de Moda, Fashion Center, etc. À medida em que a crise se aprofundou, mais estes estabelecimentos foram importantes como escoamento da produção dos pequenos e médios fabricantes.
Além dos pequenos lojistas, também surgiram nessa época as chamadas “sacoleiras”, senhoras do interior e da periferia que compram mercadorias nas lojas de pronta entrega e revendem às suas amigas, a domicílio. Estima-se que nos níveis médio e baixo de mercado, as “sacoleiras” chegam a representar 40% de todo o movimento do pequeno e médio confeccionista.
Para a indústria de shopping centers, os fenômenos citados acima tiveram várias conseqüências e desdobramentos:
Em primeiro lugar, as redes de fabricantes com grife própria passaram a desempenhar papel fundamental no “tenant mix” de qualquer empreendimento, a ponto de avalizarem, ou não, o sucesso comercial de um empreendimento junto a outros lojistas e fabricantes de menor reputação ou poder comercial. Da mesma maneira que há alguns anos seria impensável o desenvolvimento de um shopping center sem a presença confirmada de várias âncoras, hoje em dia é absolutamente necessária a presença de nomes do porte de “Forum”, “M. Officer”, “Viva Vida” e alguns outros, para garantir o sucesso comercial do empreendimento já na sua fase de comercialização aos lojistas.
Por outro lado, a combinação das lojas de fábrica e lojas de pronta entrega levou ao surgimento do que classificaríamos aqui como “shopping de descontos”, onde o conceito de shopping center tradicional é adaptado para acomodar condições mais espartanas, fabricantes e distribuidores sob a estratégia de “preço mais baixo”. Tal como nos Estados Unidos, esse novo centro de compras é definido pelo conceito de “varejo de valor”, onde o consumidor quer encontrar produtos de qualidade, a preços sensivelmente mais baixos que nos shopping centers tradicionais.
Infelizmente, à época, o termo “outlet center” assumiu, no Brasil, um significado diverso daquele que encontramos nos Estados Unidos. Enquanto lá “outlet” significa “escoamento” de produção, no Brasil, graças à grande inventividade de alguns empresários locais, este termo passou a significar o empreendimento que abriga diversos stands temporários de qualquer lojista, fabricante ou revendedor que se disponha a pagar o aluguel semanal, sem qualquer compromisso do empreendedor com perenidade, qualidade, “tenant mix” ou proteção ao consumidor.
Esse tipo de empreendimento, originou-se em São Paulo e, devido a seus baixos custos de implantação (na realidade, nada mais que a adaptação sumária de galpões antigos) rapidamente proliferou-se por diversos pontos, principalmente na cidade de São Paulo.
Nos cinco anos da era “Collor – Itamar”, a indústria de shopping centers dedicou-se então a duas atividades principais: o planejamento de novos empreendimentos com a característica de “varejo de valor”, empreendimentos os quais estão agora começando a entrar em operação e a reforma e readequação dos shopping tradicionais, com raras exceções.
Nestes quatro anos, vimos poucos shopping centers novos, do modelo tradicional, serem planejados e desenvolvidos, sendo exemplo notório o Shopping Plaza Sul, na cidade de São Paulo; entretanto, praticamente todos os shoppings existentes na cidade de São Paulo sofreram algum tipo de reforma ou “expansão” durante esse período.
Um fator impulsionador desse movimento foi também a oportunidade apresentada pela desativação das cadeias Sears e Dillard’s, que colocaram à disposição dos empreendedores grandes áreas de vendas a baixo custo de investimento.
O efeito dessas reformas e expansões é que houve melhor adequação do espaço de vendas às novas necessidades do varejo e realidade do mercado. O tamanho médio das lojas diminuiu e hoje é comum encontrar-se no mercado lojas de 30 a 40m2 de área; as grandes lojas âncora foram em parte substituídas por muitas pequenas lojas e grande parcela destas são, na realidade, o braço do varejo de pequenos e médios fabricantes.
No espaço anteriormente ocupado por grandes âncoras como a Dillard’s, no Shopping Iguatemi e Sears, no Shopping Morumbi, hoje apresentam-se quase duas centenas de lojistas independentes, não mais submetidos totalmente ao grande poder de compra dos magazines.
Neste capítulo de varejo, é importante notar a presença do novo componente de varejo no mercado brasileiro, qual seja o atacadista que chega ao público consumidor através dos “clubes de descontos” (warehouse clubs). Esta forma de varejo espartano, baseado exclusivamente em preço, conta no Brasil com um representante, a rede “Apoio”, do grupo mineiro Sindi. Desenhado a competir diretamente com os hipermercados, objetiva fazer o produto chegar às mãos do consumidor pelo menor preço possível, através do corte de custos fixos e diminuição de margens.
Assistimos à chegada do “Sam’s Club”, da rede Wal Mart, ao Brasil. Se o exemplo do sucesso obtido pela rede Apoio é medida para a atuação do Sam’s Club neste mercado, então pode-se prever que o varejo de produtos de primeira necessidade e Hipermercado está para sofrer mudanças no Brasil.
Para a indústria de shopping centers, esta mudança no varejo viria reforçar a presença dos shoppings de descontos em nosso cenário. Enquanto Hipermercados foram âncora importante para os shopping centers tradicionais, estas formas de varejo de desconto oferecem aos empreendedores a oportunidade de ancorarem novos empreendimentos em clubes de desconto e, assim, atraírem importante parcela de público.
Shoppings de descontos só funcionam se realmente vierem a oferecer ao público, preços realmente atrativos. A questão que se colocou para a indústria de shopping centers no Brasil é se estes novos empreendimentos são realmente capazes de oferecer custos competitivos, aos lojistas e aos consumidores, a ponto de fazê-los o ponto referencial de compras para o consumidor. Porém isto não se concretizou. Devido a falta de excedente de produção e de lojistas e operadores profissionais neste segmento, o shopping de desconto acabou confundido com shopping de lojas amadoras, oferecendo ao público produtos baratos e de qualidade e procedência inferiores. Talvez no futuro, dependendo do desenvolvimento econômico do país, volte a ser um segmento que mereça melhor análise e exploração dos investidores.
A segunda metade da década foi marcada pelo desenvolvimento de grandes áreas de lazer nos shopping centers. Estas áreas foram previamente planejadas nos novos projetos e foram obtidas, nos shoppings já existentes através da reestruturação de ABL desocupada, seja devido a shopping centers inicialmente superdimensionados, seja devido a grandes operações que encerraram suas atividades.
Estas áreas de lazer vieram como grandes operações de cinema no modelo cineplex norte-americano, trazidas principalmente pelas gigantes Cinemax e UCI, enquanto a NAI ainda finaliza estudos para a sua entrada no Brasil, ou não.
Instalaram-se também nos shopping centers complexos múltiplos de lazer, englobando numa única operação boliche, restaurante, simuladores e entretenimento para todas as idades, com o objetivo de servir a família como um todo.
Shoppings temáticos de lazer também foram desenvolvidos e implantados, porém não obtiveram o sucesso esperado, sem conseguir se sustentar com as receitas geradas prática e unicamente pelas operações de entretenimento.
Porém, a grande característica do fim da década é a saturação dos espaços para a montagem de shopping centers, não do ponto de vista mercadológico, mas do ponto de vista físico. Em outras palavras, praticamente todos os terrenos em situação indicada, à época, para a implantação de shopping centers, seja devido ao fácil acesso ou à localização privilegiada, já estão ocupados por empreendimentos comerciais.
Esperamos que esse texto ajude ao entendimento dos que atualmente desenvolvem trabalhos sobre a evolução desse segmento.
Shopping Centers no Brasil – Século 21
A Metamorfose do Varejo: A História dos Shopping Centers no Brasil (2000-2024)
Sumário Executivo
O setor de shopping centers no Brasil atravessou, entre 2000 e 2024, uma profunda e complexa metamorfose, evoluindo de um modelo de crescimento quantitativo e expansão geográfica para uma era de reinvenção qualitativa, resiliência estratégica e integração com o tecido urbano e digital. Este relatório detalha a jornada de quase um quarto de século, marcada por ciclos de euforia e crise, que forjaram um setor mais maduro, profissionalizado e adaptável.
O início do milênio foi um período de reacomodação. Após o boom impulsionado pela estabilidade do Plano Real, o ritmo de inaugurações desacelerou, não por uma crise de demanda, mas por restrições no acesso ao capital, notadamente dos fundos de pensão. Essa fase, contudo, foi um pivô estratégico: o foco se deslocou para a otimização de ativos existentes, através de expansões, e para a exploração de novos mercados, com um forte movimento de interiorização.
A partir de 2006, o setor entrou em sua “década de ouro”. Um cenário macroeconômico favorável, aliado a uma onda de aberturas de capital (IPOs), injetou um volume sem precedentes de recursos, profissionalizando a gestão e acelerando a consolidação. Grandes grupos, como BRMalls, Multiplan e Iguatemi, expandiram agressivamente seus portfólios, e o número de empreendimentos no país ultrapassou a marca de 500.
Essa fase de crescimento exuberante foi testada pela severa crise econômica de 2014, que, somada à ascensão do e-commerce, impôs ao setor seu primeiro grande desafio de resiliência. A vacância aumentou, projetos foram adiados e a vulnerabilidade de um modelo excessivamente dependente do consumo de bens tornou-se evidente.
Contudo, o ponto de ruptura definitivo foi a pandemia de COVID-19 em 2020. O fechamento inédito e total dos shoppings representou um choque existencial, paralisando as operações físicas e catalisando uma década de transformação digital em poucos meses. O faturamento despencou e o fluxo de visitantes colapsou. A crise, no entanto, forçou a ressignificação do espaço físico. A loja deixou de ser apenas um ponto de venda para se tornar um ativo logístico e de experiência, e o shopping, para sobreviver, precisou acelerar sua transição de “centro de compras” para “hub de experiências” e convivência.
A era pós-pandemia (2023-2024) é a da consolidação dessa nova identidade. O faturamento atingiu níveis recordes, superando os patamares pré-crise, embora o fluxo de visitantes não tenha retornado totalmente, indicando visitas mais intencionais e com maior conversão. A estratégia dominante agora se concentra na qualificação do mix de lojas, com forte ênfase em gastronomia, serviços e lazer, e no desenvolvimento de complexos de uso misto (mixed-use), que integram os shoppings à vida cotidiana de moradia e trabalho. O ápice desse movimento de maturação e consolidação foi a fusão entre BRMalls e Aliansce Sonae em 2023, que deu origem à Allos, a maior empresa do setor no país, selando o fim de uma era e o início de outra, focada em escala, sinergia e na gestão de ecossistemas multifuncionais.
Tabela 1: Evolução dos Indicadores Chave do Setor de Shopping Centers no Brasil (Marcos Selecionados, 2000-2024)
| Ano | Número de Shoppings | ABL Total (milhões m²) | Faturamento Anual (R$ bilhões) | Fluxo Mensal de Visitantes (milhões) | Empregos Gerados (milhões) |
| 2000 | 281 | N/A | ~25,3 (em 2001) | N/A | N/A |
| 2005 | ~260 | N/A | N/A | N/A | ~0,48 |
| 2009 | 381 | 8,8 | N/A | N/A | ~0,72 |
| 2015 | 538 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2019 | 577 | 16,98 (em 2020) | 192,8 | 502 | ~1,00 |
| 2020 | N/A | 16,98 | 128,8 | 341 | N/A |
| 2021 | 620 | N/A | 159,2 | 397 | N/A |
| 2022 | N/A | 17,5 | 191,8 (estimado) | 443 | N/A |
| 2023 | 639 | 17,8 | 194,7 | 462 | >1,00 |
| 2024 | 648 | 18,2 | 198,4 | 476 | 1,073 |
Fontes: Compilação de dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) e outras fontes setoriais. Os dados podem apresentar pequenas variações dependendo da metodologia de cada censo anual.
- O Cenário na Virada do Século: Fundações para a Transformação (2000-2005)
O setor de shopping centers no Brasil adentrou o século XXI em um momento de transição fundamental. Após a euforia expansionista da década de 1990, impulsionada pela estabilidade econômica do Plano Real, o período entre 2000 e 2005 foi caracterizado não por uma crise, mas por uma reacomodação estratégica. O ritmo de crescimento, antes vertiginoso, deu lugar a uma fase de maturação, na qual o setor foi forçado a buscar novas fontes de financiamento e a explorar novas fronteiras geográficas, lançando as bases para a grande onda de crescimento que se seguiria.
A Desaceleração Pós-Boom
O crescimento acelerado que marcou a indústria até o final do século XX, culminando em 281 empreendimentos em operação no ano 2000, sofreu uma notável desaceleração nos anos subsequentes. O número de novas inaugurações diminuiu de forma acentuada, um fenômeno que poderia ser erroneamente interpretado como um sinal de esgotamento do modelo. No entanto, a causa primária dessa retração não estava na demanda dos consumidores ou na viabilidade econômica dos projetos, mas em uma mudança estrutural no ambiente de capital. A principal fonte de financiamento da década anterior, os fundos de pensão, teve seus investimentos no setor imobiliário restringidos por novas regulamentações, criando uma escassez de recursos para novos projetos de grande porte.
A aparente estagnação na abertura de novos malls mascarava uma intensa atividade de otimização e qualificação dos ativos existentes. Com o capital mais seletivo, os empreendedores deslocaram o foco da construção de novos shoppings em mercados já competitivos para a maximização do retorno de seus portfólios consolidados. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) e divulgada em agosto de 2002 revelou essa tendência de forma clara: 48% dos shoppings em operação já haviam realizado algum tipo de expansão em sua história. Mais revelador ainda era o fato de que 63% dos empreendimentos tinham projetos de expansão planejados para os cinco anos seguintes, sendo 19% para o ano seguinte e 11% para os próximos dois anos. Essa mudança de uma estratégia de crescimento puramente quantitativo para uma de aprimoramento qualitativo demonstrou um amadurecimento do setor, que passava de uma corrida por espaço para uma gestão de portfólio mais calculada e eficiente.
A Semente da Expansão: Interiorização e Novos Formatos
Paralelamente à otimização dos ativos existentes, a desaceleração nas capitais abriu uma nova e promissora frente de crescimento: a interiorização. Com os mercados das grandes regiões metropolitanas mostrando sinais de saturação e os custos de terrenos e construção se elevando, a expansão para cidades de médio porte, fora dos grandes eixos, emergiu como uma tendência estratégica e crescente. Este movimento foi notável: se em 1983 apenas 15% dos shoppings se localizavam no interior, em 2005 essa proporção já havia saltado para 49%.
Essa expansão para o interior era direcionada a cidades com populações, em geral, acima de 100 mil habitantes, que possuíam uma demanda reprimida por um varejo moderno, seguro e com opções de lazer. Fundos de pensão, como a FUNCEF, continuaram a investir no setor, mas com um novo foco, apostando no potencial de crescimento dessas regiões periféricas com empreendimentos de porte médio, que exigiam um capital menor e apresentavam menor risco competitivo.
Este período também foi marcado por inovações de conceito que buscavam integrar os shoppings de forma mais profunda ao tecido urbano. Um marco emblemático foi a inauguração, em 2001, do Shopping Metrô Santa Cruz, em São Paulo, pelo grupo JHSF. Foi o primeiro empreendimento do país totalmente integrado a uma estação de metrô, um modelo que sinalizava uma nova visão do shopping como um hub de conveniência e mobilidade, transcendendo sua função de mero centro de compras.
Análise de Indicadores Iniciais
Os indicadores econômicos do período refletem essa fase de transição. O faturamento total do setor em 2001 atingiu R$ 25,3 bilhões. Uma análise do período entre 1998 e 2000 mostrou que as vendas nos shoppings cresciam a um ritmo superior ao do comércio de rua, confirmando a preferência do consumidor pelo formato.
Entretanto, o setor não estava imune às oscilações da economia. O primeiro semestre de 2002 registrou uma queda real de 1% nas vendas, impactada principalmente por uma retração no consumo de vestuário e acessórios. Em contrapartida, um dado de extrema relevância surgiu dessa mesma análise: o segmento de conveniência e serviços apresentou um crescimento de 5,5% no mesmo período. Em um momento de retração do consumo de bens discricionários, a busca por serviços dentro dos shoppings se mostrou mais resiliente. Este foi um dos primeiros sinais empíricos de que a sustentabilidade futura do modelo de negócio dependeria de sua capacidade de diversificar o mix e se tornar um polo de soluções para o cotidiano, uma lição que se tornaria central duas décadas mais tarde. Ao final de 2005, o país contava com aproximadamente 260 shoppings, um número ligeiramente menor que o de 2000, refletindo o fechamento de alguns empreendimentos e o ritmo lento de novas aberturas, mas com uma base mais sólida e geograficamente diversificada para o ciclo de expansão que estava por vir.
- A Década de Ouro: Expansão, Profissionalização e Consolidação (2006-2013)
Após um período de reajuste estratégico, o setor de shopping centers no Brasil ingressou, a partir de meados de 2006, em sua fase de mais extraordinária expansão. Impulsionada por um ambiente macroeconômico robusto, com crescimento da renda, expansão do crédito e estabilidade econômica, e por um acesso sem precedentes ao mercado de capitais, esta “década de ouro” foi marcada por um crescimento exponencial no número de empreendimentos, pela profissionalização da gestão e por um intenso processo de consolidação que redesenhou o mapa competitivo do setor de forma permanente.
O Impulso Macroeconômico e o Acesso ao Capital
O cenário econômico favorável foi o catalisador que reacendeu o motor do crescimento. A melhora dos indicadores macroeconômicos atraiu um volume massivo de investimentos, tanto de grupos estrangeiros especializados quanto de empreendedores nacionais. O marco decisivo deste período, no entanto, foi a abertura de capital (IPOs) na Bolsa de Valores por parte das principais empresas do setor. Grupos de controle familiar, como Iguatemi, Multiplan, JHSF e General Shopping, além da recém-criada BRMalls, realizaram suas ofertas públicas iniciais, injetando um capital estimado em R$ 3,5 bilhões no setor apenas em 2007.
Este movimento representou muito mais do que uma simples captação de recursos; foi uma mudança de paradigma na governança e na gestão. A transição de um negócio predominantemente imobiliário e familiar para uma indústria corporativa, com ações negociadas em bolsa, introduziu uma nova lógica de operação. A necessidade de reportar resultados trimestrais, de buscar crescimento consistente para remunerar acionistas e de gerenciar portfólios em escala nacional impôs um nível de profissionalismo e transparência inédito. Métricas de desempenho do mercado de capitais, como FFO (Funds From Operations) e NOI (Net Operating Income), passaram a ditar as estratégias, e a gestão se tornou orientada por dados e pela busca de eficiência em escala.
A Ascensão e Estratégia dos Gigantes
A injeção de capital via mercado financeiro acelerou a consolidação e deu origem a gigantes com poder de fogo para ditar os rumos do setor. Cada um dos principais players adotou estratégias distintas para capitalizar sobre o momento favorável:
- BRMalls: Fundada em 2006, a empresa nasceu com a tese explícita de consolidação. Adotou uma estratégia extremamente agressiva de crescimento via fusões e aquisições, comprando participações em dezenas de shoppings por todo o país e se tornando, em um curto espaço de tempo, a maior empresa do setor em Área Bruta Locável (ABL).
- Multiplan: Com uma longa trajetória desde 1975, a Multiplan continuou a focar em sua expertise de desenvolver projetos de alta qualidade e grande impacto urbano. A empresa foi pioneira na consolidação do conceito de complexos multiuso, integrando shoppings a torres comerciais e residenciais, uma estratégia que se provaria visionária.
- Iguatemi: Controlada pelo Grupo Jereissati, a Iguatemi solidificou sua posição como a marca de referência no segmento de luxo e alta renda. Sua estratégia se concentrou na gestão de um portfólio de ativos “troféu”, dominantes em suas respectivas praças, e na expansão seletiva para mercados com perfil de consumo premium.
- Ancar Ivanhoe: A união da brasileira Ancar com o fundo de investimentos canadense Ivanhoe Cambridge em 2006 fortaleceu o capital da empresa, permitindo-lhe participar ativamente da onda de expansão, mantendo um portfólio diversificado em várias regiões do país.
Essa nova dinâmica competitiva elevou o padrão de gestão e operação em todo o setor, mas também aumentou significativamente a barreira de entrada, tornando mais difícil para shoppings independentes competirem com conglomerados que possuíam maior poder de barganha com lojistas, acesso a capital mais barato e capacidade de investimento em escala.
Crescimento Exponencial em Números
Os indicadores do período refletem a magnitude dessa expansão. O número de empreendimentos saltou de cerca de 260 em 2005 para mais de 500 ao final de 2013, um crescimento de quase 100%. Apenas entre 2006 e 2009, foram inaugurados 30 novos shoppings. A Área Bruta Locável (ABL) total do país acompanhou esse ritmo, atingindo 8,8 milhões de m² já em 2009.
O faturamento cresceu de forma robusta, e a participação dos shoppings no varejo nacional (excluindo combustíveis) se consolidou em 18,3% em 2009. Um dos indicadores mais eloquentes da saúde do mercado foi a taxa de vacância média, que despencou de 5,23% em 2004 para um nível notavelmente baixo de 2,6% em 2008, sinalizando uma demanda por espaços comerciais muito superior à oferta, mesmo com o grande número de inaugurações.
A euforia econômica e o otimismo generalizado, no entanto, podem ter mascarado certas fragilidades estruturais. O crescimento acelerado, baseado na premissa de um ciclo contínuo de aumento da renda e do crédito, levou a uma expansão massiva da ABL que, em alguns mercados, poderia resultar em um excesso de oferta. A forte dependência do varejo de bens, em detrimento de uma maior diversificação para serviços e lazer, também tornava o setor altamente vulnerável a uma reversão do ciclo econômico. O sucesso avassalador da “década de ouro” semeou, inadvertidamente, as sementes da vulnerabilidade que seriam expostas no severo teste de estresse que se iniciaria em 2014.
- Ventos Contrários: A Crise de 2014 e a Sombra do E-commerce (2014-2019)
Após um período de crescimento sem precedentes, o setor de shopping centers no Brasil enfrentou, a partir de 2014, seu primeiro grande teste de resiliência do século XXI. A confluência de uma severa recessão econômica, que erodiu o poder de compra e a confiança do consumidor, com a maturação do comércio eletrônico como uma força competitiva real, criou uma “tempestade perfeita”. Este período de ventos contrários forçou o setor a abandonar a complacência da década anterior e a iniciar uma reavaliação fundamental de seu modelo de negócios, cujas lições se mostrariam cruciais para enfrentar o choque ainda maior que estava por vir.
O Impacto da Recessão Econômica
A crise econômica brasileira que se instalou em 2014 foi profunda e prolongada, com o Produto Interno Bruto (PIB) do país registrando quedas de 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016, e o desemprego atingindo seu pico em 2017. O impacto sobre o varejo foi direto e severo, e o setor de shoppings, que havia surfado na onda do consumo, sentiu os reflexos de forma aguda.
O ritmo de inaugurações, que já vinha de uma base elevada, foi drasticamente freado. Dos 43 novos empreendimentos previstos para serem abertos em 2014, apenas 24 de fato iniciaram suas operações, um sinal claro da cautela dos investidores diante do encolhimento da demanda. O indicador mais sensível da saúde do setor, a taxa de vacância, deteriorou-se rapidamente. O percentual de lojas vagas, que era de saudáveis 2,8% em 2014, saltou para 4,6% em 2016 e continuou subindo para 5,7% em 2017, refletindo a dificuldade financeira de muitos lojistas, que levou ao fechamento de portas e à dificuldade dos administradores em preencher os espaços desocupados.
Apesar do cenário macroeconômico adverso, o setor demonstrou uma certa resiliência, especialmente no início da crise. O faturamento total em 2014 ainda registrou crescimento, alcançando R$ 142,27 bilhões. No entanto, o ritmo já era visivelmente menor; o crescimento das vendas em 2013, de 4,3%, já havia sido o mais baixo em uma década, sinalizando o fim do ciclo de expansão acelerada.
A crise, contudo, não impactou o setor de forma homogênea. Ela atuou como um catalisador para um processo de “seleção natural”, expondo a diferença de qualidade e resiliência entre os ativos. Shoppings dominantes, com localização privilegiada e voltados para o público de alta renda, como os portfólios da Multiplan e da Iguatemi, demonstraram uma capacidade muito maior de resistir à tempestade. No primeiro trimestre de 2014, por exemplo, mesmo com a economia já em desaceleração, esses grupos registraram crescimentos robustos nas vendas em mesmas lojas (9,3% e 7,6%, respectivamente). Em contrapartida, empreendimentos secundários, mais novos ou localizados em mercados com excesso de oferta, sofreram desproporcionalmente. A crise tornou mais difícil para esses shoppings atrair grandes redes varejistas, abrindo espaço para a entrada de lojistas regionais e de menor porte, que, embora garantissem a ocupação, nem sempre possuíam o mesmo poder de atração de público. Essa bifurcação entre ativos premium e secundários se aprofundaria nos anos seguintes, influenciando diretamente as estratégias de aquisição e gestão dos grandes conglomerados.
O Desafio Digital Crescente
Coincidindo com a crise econômica, o comércio eletrônico no Brasil atingiu um novo patamar de maturidade, deixando de ser um canal de nicho para se tornar um concorrente direto e relevante para o varejo físico. A crise econômica, por si só, já alterava profundamente os hábitos de consumo, forçando os consumidores a uma busca mais racional por valor. Um fenômeno notável desse período foi a adesão das classes de maior poder aquisitivo ao formato de “atacarejo”. Uma pesquisa revelou que, em 2015, 49% das famílias das classes A e B fizeram compras em atacarejos, um percentual superior à média da população. Isso demonstrou que mesmo o consumidor de alta renda estava disposto a abrir mão da experiência e do ambiente de um shopping em troca de preços mais competitivos, um alerta de que a lealdade do cliente não era incondicional.
Nesse contexto, o e-commerce oferecia uma plataforma ideal para a comparação de preços e a busca por ofertas, ganhando tração e participação de mercado. Embora a resposta estratégica do setor de shoppings à ascensão digital ainda fosse incipiente, a combinação da pressão econômica com a conveniência do online começou a forçar uma mudança de mentalidade. A percepção de que o shopping precisava oferecer algo mais do que apenas uma coleção de lojas começou a se consolidar. A experiência, a conveniência e a oferta de serviços, que não podiam ser facilmente replicados pelo ambiente digital ou por formatos de baixo custo, começaram a ser vistas não mais como diferenciais, mas como elementos essenciais para a sobrevivência e relevância do modelo de negócio.
- O Ponto de Ruptura: A Pandemia de COVID-19 e a Digitalização Forçada (2020-2022)
Se a crise de 2014 foi um teste de resiliência, a pandemia de COVID-19, iniciada em março de 2020, foi um evento de ruptura existencial para o setor de shopping centers no Brasil. O choque foi sem precedentes: não se tratou de uma retração na demanda, mas de uma paralisação completa e forçada das operações físicas. Este período não apenas representou a maior crise da história do setor, mas também atuou como um catalisador implacável, acelerando tendências digitais em uma década em questão de meses e forçando uma redefinição fundamental do propósito e da função do shopping center na sociedade e na economia.
O Choque Inédito do Fechamento
A partir de março de 2020, em resposta à crise sanitária, decretos governamentais em todo o país determinaram o fechamento de todos os serviços não essenciais. Os shoppings, por sua natureza de locais de grande aglomeração, foram um dos primeiros e mais impactados segmentos, vivenciando algo nunca antes imaginado: seus corredores ficaram completamente vazios.
O impacto nos indicadores foi imediato e devastador. O fluxo mensal de visitantes, que em 2019 mantinha uma média robusta de 502 milhões de pessoas, desabou para 341 milhões em 2020, uma queda de mais de 30%. O faturamento anual acompanhou o colapso, caindo de R$ 192,8 bilhões em 2019 para R$ 128,8 bilhões em 2020, um retrocesso a níveis de anos anteriores. A sustentabilidade financeira de todo o ecossistema foi posta à prova. Com as lojas de portas fechadas e faturamento zero, a pressão sobre os aluguéis tornou-se insustentável. As administradoras foram forçadas a conceder descontos e isenções massivas. A Multiplan, por exemplo, reportou ter deixado de arrecadar R$ 300 milhões em aluguéis apenas nos meses de março e abril de 2020 para apoiar seus lojistas.
A crise sanitária também marcou um ponto de inflexão simbólico na competição com o varejo digital. Com o comércio físico paralisado, o e-commerce se tornou o principal, e muitas vezes único, canal de consumo. Em 2020, as vendas online no Brasil cresceram impressionantes 75%, e sua participação no varejo total saltou de 6% para 11%. Pela primeira vez na história, as vendas do comércio eletrônico superaram as dos shopping centers no país, um marco que, embora impulsionado por circunstâncias extraordinárias, sinalizou uma mudança permanente no equilíbrio de poder do varejo.
Sobrevivência Digital e a Aceleração Omnichannel
A pandemia expôs de forma brutal o despreparo digital de grande parte do setor. Varejistas e administradoras que haviam tratado a transformação digital como uma estratégia de longo prazo se viram forçados a improvisar para sobreviver. Soluções paliativas, como vendas por telefone, WhatsApp e a criação de sistemas de drive-thru nos estacionamentos, foram implementadas às pressas.
Essa necessidade urgente de encontrar canais alternativos de venda demoliu permanentemente a barreira entre o varejo físico e o digital. O conceito de omnichannel, antes um jargão corporativo, tornou-se uma questão de sobrevivência. A crise forçou a ressignificação da loja física: de um mero ponto de venda, ela se transformou em um ativo estratégico multifuncional. O estoque da loja passou a ser usado para atender pedidos online (Ship from Store), e o próprio shopping se tornou um ponto de retirada conveniente para compras digitais (Click and Collect). Empresas de tecnologia, como a OpaBox, viram uma demanda explosiva por suas soluções, desenvolvendo plataformas de marketplace e aplicativos white label para dezenas de shoppings, integrando centenas de lojistas em ecossistemas digitais unificados. A loja física, portanto, foi redefinida como um hub de experiência (para showrooming), um ponto de conveniência e, crucialmente, um mini centro de distribuição para a logística de “última milha” (last-mile).
O Papel da ABRASCE
Em meio ao caos, a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) desempenhou um papel de liderança fundamental. A entidade atuou como a principal interlocutora entre o setor e as diversas esferas do poder público, articulando as negociações para uma reabertura segura e gradual. A ABRASCE foi instrumental no desenvolvimento e na implementação de rigorosos protocolos de segurança e higiene, validados por instituições de saúde como o Hospital Sírio-Libanês, que foram essenciais para reconquistar a confiança dos consumidores e das autoridades. Além disso, a associação trabalhou ativamente para discutir medidas de apoio que garantissem a sobrevivência de toda a cadeia produtiva, de lojistas a empreendedores.
O esvaziamento forçado dos shoppings durante a pandemia, paradoxalmente, revelou o valor intrínseco e insubstituível do espaço físico. Enquanto os produtos podiam ser adquiridos online, a experiência da socialização, do encontro e do lazer foi abruptamente retirada da vida das pessoas. O cansaço das compras puramente digitais e a demanda reprimida por interação humana e experiências tangíveis se tornaram evidentes. A crise, portanto, acelerou a transição estratégica que já se desenhava: a de que o futuro do shopping não residia em ser um “centro de compras”, mas sim um “centro de convivência”.
- A Reinvenção do Espaço Físico: O Shopping Center como Hub de Experiências (2023-Hoje)
A era pós-pandemia marcou o início de um novo capítulo para os shopping centers no Brasil, caracterizado por uma notável recuperação financeira e pela consolidação de uma nova identidade estratégica. As lições aprendidas durante a crise foram internalizadas, e o setor emergiu com um modelo de negócios reinventado, focado na experiência do consumidor, na multifuncionalidade dos espaços e em uma integração sem precedentes com o ecossistema digital e urbano. Este período é definido pela ascensão do shopping como um “hub de experiências” e pela consolidação final do mercado, com a criação de um player dominante.
A Recuperação e a Nova Dinâmica de Fluxo
A recuperação econômica do setor foi mais rápida e robusta do que muitos previam. O faturamento não apenas retornou aos níveis pré-pandêmicos, mas os superou, estabelecendo novos recordes nominais. Em 2023, as vendas atingiram R$ 194,7 bilhões, ultrapassando a marca de R$ 192,8 bilhões de 2019. A trajetória ascendente continuou, com um novo recorde de R$ 198,4 bilhões em 2024 e uma projeção de atingir R$ 201,6 bilhões em 2025. A saúde financeira do setor também é evidenciada por uma alta taxa de ocupação, que alcançou 95% em 2024, e pela menor taxa de inadimplência da história, indicando um mercado equilibrado e próspero.
Contudo, por trás desses números positivos, esconde-se uma mudança fundamental no comportamento do consumidor. O fluxo de visitantes, embora em recuperação gradual, permanece consistentemente abaixo dos níveis de 2019. Em 2024, a média mensal de visitantes foi de 476 milhões, ainda 5,2% inferior aos 502 milhões registrados antes da pandemia. A aparente contradição entre um faturamento recorde e um fluxo menor de pessoas revela a nova dinâmica da visitação: os passeios exploratórios e sem propósito definido deram lugar a jornadas mais planejadas e intencionais. O consumidor moderno realiza a pesquisa de produtos online e vai ao shopping com um objetivo claro, seja para comprar um item específico, retirar um pedido, desfrutar de uma experiência gastronômica ou participar de um evento. O resultado é uma visita de maior qualidade, com maior taxa de conversão e um ticket médio significativamente mais alto, o que explica a dissociação entre as métricas de fluxo e faturamento.
A Revolução do Mix de Lojas e a Economia da Experiência
A principal resposta estratégica a essa nova realidade foi a aceleração da transformação do shopping em um “hub de experiência”. A mentalidade dos administradores mudou de uma competição pelo “share of wallet” (participação na carteira) para uma disputa pelo “share of life” (participação na vida) do consumidor. Isso se traduziu em uma revolução estrutural no mix de lojas, um movimento que já vinha ocorrendo, mas que foi intensificado drasticamente após 2020.
As tradicionais lojas satélites de vestuário e acessórios começaram a ceder espaço para segmentos que oferecem experiências e conveniência. As áreas de alimentação e gastronomia foram as que mais cresceram, deixando de ser meras praças de alimentação para se tornarem polos gastronômicos, com restaurantes de renome, bares e espaços para eventos. O setor de serviços também se expandiu exponencialmente, com a inclusão de clínicas médicas e odontológicas, laboratórios de exames, academias, espaços de coworking e até unidades de serviços públicos, transformando o shopping em um local para resolver as pendências do dia a dia. O lazer e o entretenimento ganharam protagonismo, com cinemas de última geração, teatros, parques de diversões indoor e uma agenda constante de eventos culturais.
Tabela 2: Comparativo dos Principais Players do Mercado (2024)
| Grupo | Nº de Shoppings no Portfólio | ABL Total (milhões m²) | Posicionamento Estratégico |
| Allos | ~60 | ~2,5 (ABL Própria) | Dominância nacional, escala, sinergias operacionais, hubs de experiência em diversos segmentos. |
| Multiplan | 20 | ~0,93 | Ativos premium, desenvolvimento de projetos multiuso, forte integração imobiliária, inovação. |
| Iguatemi | 16 | ~0,7 (ABL Própria) | Foco no segmento de luxo e alta renda, ativos “troféu” dominantes, marca de alto valor agregado. |
Fontes: Compilação baseada em dados institucionais e de mercado. Números de portfólio e ABL são aproximados e podem variar.
A Era dos Complexos Multiuso (Mixed-Use)
A evolução do shopping para além do varejo culminou na consolidação dos complexos de uso misto (mixed-use) como a fronteira do desenvolvimento do setor. A estratégia de integrar o centro comercial a torres residenciais, edifícios corporativos, hotéis e centros de saúde tornou-se uma tendência dominante. Em 2022, já se estimava que 28% dos shoppings no Brasil faziam parte de um complexo multiuso.
Essa abordagem transforma o shopping de um destino de consumo em um elemento central do planejamento urbano. Ao construir a vida das pessoas — moradia e trabalho — ao redor do shopping, os empreendedores criam um fluxo de público cativo e recorrente, que utiliza os serviços e a gastronomia do mall diariamente, e não apenas em ocasiões especiais. Para os moradores e trabalhadores, a conveniência e a segurança de ter uma vasta gama de serviços a um elevador de distância representa um enorme fator de valorização imobiliária. O shopping deixa de ser apenas um ativo de varejo para se tornar uma “âncora urbana”, um ecossistema completo que é, por definição, impossível de ser replicado pelo mundo digital.
A Consolidação Final: A Criação da Allos
O ápice do processo de maturação e consolidação do mercado ocorreu em 2023 com a fusão entre a BRMalls e a Aliansce Sonae, as duas maiores empresas do setor na época. A operação deu origem à Allos (ALOS3), criando um conglomerado com um portfólio de dezenas de empreendimentos espalhados por todo o país. A fusão foi justificada pela busca de sinergias operacionais e de receita, com uma meta de ganhos de R$ 210 milhões, dos quais R$ 134 milhões já haviam sido capturados no início de 2025. A criação da Allos representa o fim da era de competição acirrada pela expansão e o início de uma nova fase, focada na otimização de um portfólio gigante e na consolidação do modelo de hub de experiências em escala nacional.
Tabela 3: Transformação do Mix de Lojas – Pré e Pós-Pandemia (Estimativa)
| Segmento | % do Mix (Estimativa 2019) | % do Mix (Estimativa 2024) | Tendência |
| Vestuário e Acessórios | 45% – 50% | 35% – 40% | ↘️ |
| Lojas de Departamento/Âncoras | 15% – 20% | 10% – 15% | ↘️ |
| Alimentação e Gastronomia | 15% – 20% | 25% – 30% | ↗️ |
| Serviços (Bancos, Clínicas, etc.) | 5% – 10% | 10% – 15% | ↗️ |
| Lazer e Entretenimento | 5% – 8% | 8% – 12% | ↗️ |
| Saúde e Bem-Estar (Academias, etc.) | < 5% | 5% – 8% | ↗️ |
Fonte: Análise baseada em tendências qualitativas descritas em fontes setoriais. Os percentuais são estimativas para ilustrar a magnitude da mudança.
- Análise Estratégica e Perspectivas Futuras
A jornada dos shopping centers no Brasil de 2000 a 2024 é uma crônica de adaptação e reinvenção. O setor evoluiu de “templos de consumo”, focados quase exclusivamente na venda de produtos, para se tornar complexos “ecossistemas de convivência e conveniência”, profundamente integrados à vida urbana e digital. Essa metamorfose, impulsionada por ciclos econômicos, disrupção tecnológica e uma crise sanitária global, posicionou a indústria em um novo patamar de resiliência, mas também trouxe novos e complexos desafios estratégicos para o futuro.
Síntese da Evolução
O percurso de 24 anos pode ser sintetizado em quatro grandes fases:
- Maturação (2000-2005): Uma fase de ajuste pós-boom, com foco em expansões de ativos existentes e na estratégica interiorização.
- Expansão Acelerada (2006-2013): A “década de ouro” de crescimento quantitativo, impulsionada por capital farto e consolidação corporativa.
- Teste de Resiliência (2014-2019): O enfrentamento da crise econômica e da concorrência do e-commerce, que iniciou a seleção natural dos ativos mais qualificados.
- Ruptura e Reinvenção (2020-2024): A pandemia como catalisador da digitalização forçada e da consolidação do shopping como um hub de experiências multifuncional.
Desafios Estratégicos Atuais
O sucesso futuro do setor dependerá de sua capacidade de navegar por um cenário competitivo e por expectativas de consumidores que são radicalmente diferentes das do início do século. Os principais desafios incluem:
- Monetização da Experiência: A estratégia de atrair público com eventos, lazer e gastronomia é eficaz para gerar fluxo, mas o desafio reside em converter essa presença em vendas efetivas para os lojistas de varejo. É preciso criar uma jornada de consumo fluida que conecte a experiência ao ato da compra, evitando que o shopping se torne apenas um “parque de diversões” com baixo desempenho comercial.
- Competição pelo “Share of Life”: A concorrência transcendeu o varejo. O shopping hoje não compete apenas com o e-commerce ou com o comércio de rua, mas com qualquer atividade que dispute o tempo livre do consumidor, como parques, centros culturais, shows, eventos esportivos e plataformas de streaming. Manter-se relevante exige uma curadoria de eventos e experiências que seja única e atraente.
- Sustentabilidade (ESG): As demandas por práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) são crescentes. Isso inclui desde a concepção de projetos com maior eficiência energética e hídrica e gestão de resíduos, até a geração de impacto social positivo nas comunidades do entorno, fortalecendo o papel do shopping como um bom cidadão corporativo.
- Inteligência Artificial e Dados: A capacidade de coletar e analisar grandes volumes de dados (big data) sobre o comportamento dos frequentadores é um diferencial competitivo crucial. O uso de inteligência artificial pode otimizar desde a gestão do mix de lojas e a negociação de aluguéis até a personalização de ofertas e a melhoria da experiência do cliente em tempo real.
Perspectivas e Cenários Futuros
O setor de shopping centers no Brasil demonstra um futuro promissor, embora o crescimento deva assumir um caráter mais qualitativo do que quantitativo. As perspectivas apontam para as seguintes tendências:
- Expansão Seletiva: A expansão continuará, mas de forma mais estratégica. Estão previstos 17 novos shoppings para 2025, com um foco notável em levar o formato para cidades que ainda não possuem tal empreendimento, ampliando a capilaridade do setor. O crescimento em mercados já consolidados virá principalmente de expansões de ativos existentes, como o projeto do Iguatemi Brasília, que visa capitalizar sobre o dinamismo econômico da região Centro-Oeste.
- Aprofundamento do Modelo Multiuso: A integração com projetos residenciais e corporativos se tornará a norma para novos desenvolvimentos de grande porte, consolidando o shopping como uma âncora para ecossistemas urbanos completos.
- Digitalização como Plataforma: A transformação digital continuará a se aprofundar. Os shoppings se posicionarão cada vez mais como plataformas de mídia, monetizando seu grande fluxo de visitantes através de canais digitais out-of-home (OOH). A função logística também será aprimorada, com os shoppings se tornando hubs essenciais para a operação omnichannel dos varejistas.
Em conclusão, a perspectiva é de um setor que, após enfrentar e superar múltiplos desafios, alcançou um novo patamar de maturidade. Com um modelo de negócio mais diversificado e resiliente, e com um faturamento que deve se manter em patamares recordes, os shopping centers no Brasil provaram sua capacidade de adaptação e se consolidaram não apenas como pilares do varejo, mas como centros vitais da vida social, cultural e econômica das cidades brasileiras.